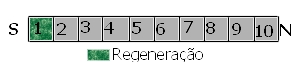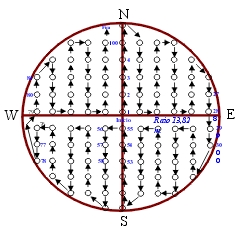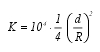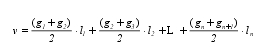|
A população objeto do presente inventário é composta pelas florestas nativas e plantadas do Estado do Rio Grande do Sul, as quais se distribuem sobre uma superfície de 282.679 km² , situadas entre as coordenadas geográficas 27º 03' 42" a 33º 45' 09" de latitude sul e 49º 42' 41" e 57º 40' 57" de longitude a oeste de Greenwich. Trata-se de
um inventário do tipo contínuo, executado através
de procedimentos estatísticos de amostragem que foi planejado
para ser repetido, integralmente, a cada 5 anos. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
No planejamento do sistema de amostragem, para o inventário florestal do Rio Grande do Sul, considerou-se os seguintes aspectos (BRENA, 1995): a)
o inventário florestal será do tipo contínuo,
repetido a cada 5 anos, o qual fornecerá informações
sobre o estado corrente dos recursos florestais, bem como das mudanças
ocorridas ao longo do tempo;
Em
conformidade com a experiência internacional, o processo básico
de amostragem utilizado no inventário foi a Amostragem Sistemática
com Pós-estratificação. No
segundo nível, as florestas nativas foram estratificadas
por tipo fitogeográfico, constituindo
10 estratos como segue:
As
florestas plantadas, no segundo nível, foram estratificadas
por região fisiográfica, constituindo - estratos como
segue:
Em cada região fisiográfica, as florestas plantadas foram estratificadas por gênero, como segue:
No terceiro
nível, a população foi dividida segundo as
bacias hidrográficas, constituindo
21 estratos administrativos, como segue:
O método
de amostragem utilizado no inventário foi o de Área
Fixa, o qual seleciona as árvores a serem amostradas nas
unidades amostrais proporcional à área da unidade
e à freqüência dos indivíduos que nela
ocorrem.
Com
base nas estimativas de médias e variâncias do inventário
realizado em 1981, para um limite de erro máximo de 10% da
média volumétrica com 95% de probabilidade de confiança,
o cálculo da intensidade de amostragem determinou a necessidade
de 330 unidades amostrais para as florestas nativas e 315 unidades
amostrais para as florestas plantadas.
Unidades
Amostrais Unidades
amostrais para florestas nativas Nas florestas
nativas aplicou-se quatro tipos de unidades amostrais, identificadas
como unidades para crescimento, unidades para estoque, unidades
para regeneração natural e unidades para estágios
iniciais de regeneração das florestas. a) Unidade
amostral para crescimento A unidade amostral para crescimento foi uma parcela permanente da forma quadrada, com 100 m de largura por 100 m de comprimento (10.000 m² de superfície), a qual foi dividido em 10 faixas de 10 m de largura por 100 m de comprimento (1.000 m² de superfície), e estas subdivididas em 10 subunidades de 10 m x 10 m (100 m²), totalizando 100 subunidades, conforme o seguinte esquema: 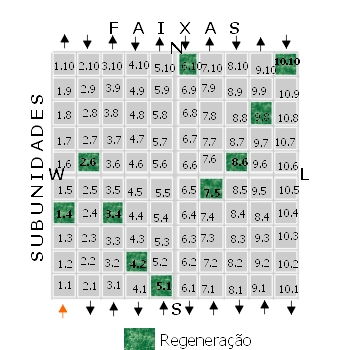 b) Unidade
amostral para estoque A unidade amostral básica para o levantamento do estoque foi uma parcela permanente do tipo faixa, com 10 m de largura por 100 m de comprimento (1.000 m² de superfície), orientada no sentido SUL-NORTE, dividida em 10 subunidades de 10 m x 10 m (100 m2), onde também foram considerados todos os indivíduos que apresentavam CAP maior ou igual a 30 cm, conforme mostra a figura:
A parcela
básica foi instalada em todos os pontos amostrais, cuja
área da floresta ou fragmento tinha comprimento maior do
que 100 m na direção sul-norte. Nas áreas
com comprimento menor que 100 m, instalava-se parcelas de comprimento
variável, compostas pelo número de subunidades que
o fragmento comportava. Esta parcela foi instalada com esquadro
de agrimensor, marcando-se os limites externos e as subunidades
com canos de PVC rígido. c) Unidade
amostral para regeneração natural A regeneração natural das florestas foi levantada nas unidades amostrais para crescimento e para estoque, em dois níveis de subunidades: nas subunidades básicas de 10 m por 10 m (100 m²), previamente sorteadas, considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 15 cm e menor que 30 cm; e em uma subunidade menor, localizada no vértice inferior esquerdo da subunidade básica sorteada, marcou-se um quadrado de 3,16 m x 3,16 m (10 m²), no qual considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 3 cm e menor do que 15 cm.
Os estágios iniciais foram levantados em uma unidade amostral igual à utilizada para o levantamento da regeneração natural, composta pelas mesmas subunidades. A diferença ocorria na abordagem dos indivíduos, ou seja: na subunidade de 10 m x 10 m (100 m²), considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 15 cm; e na subunidade de 3,16 m x 3,16 m (10 m²), considerou-se os indivíduos com CAP maior ou igual a 3 cm e menor que 15 cm.
A unidade amostral aplicada nas florestas plantadas foi a da forma circular, com 13,82 m de raio, totalizando 600 m² de superfície, tanto para as unidades permanentes como para as temporárias, conforme mostra a figura a seguir:
Nesta unidade
amostral levantou-se todas as árvores que apresentavam
DAP (diâmetro à altura do peito) maior ou igual a
5 cm. Distribuição das Unidades Amostrais As unidades amostrais foram distribuídas sistematicamente sobre o mapa florestal do Estado, em cada uma das 29 cartas da DSG (1:250.000) que cobrem o Rio Grande do Sul:
A distribuição foi realizada a partir de duas redes de pontos eqüidistantes como seguem: a primeira, para florestas naturais, tinha uma malha de 10 km x 10 km entre pontos, resultando 2.820 quadrículas em todo o Estado, das quais esperava-se amostrar, no mínimo, as 330 unidades definidas na intensidade de amostragem; a segunda, para florestas plantadas, tinha uma malha de 2,5 km x 2,5 km, o que resulta 45.129 quadrículas em todo o Estado, das quais esperava-se amostrar, no mínimo, as 315 unidades definidas no cálculo da intensidade de amostragem. Localização das Unidades Amostrais As unidades amostrais foram localizadas no campo com o auxílio de GPS, através das coordenadas UTM de cada ponto amostral, extraídas do mapa georreferenciado das florestas do Estado e das cartas geográficas do Exército.
A coleta de dados de campo no inventário florestal contínuo do Estado do Rio Grande do Sul foi realizada por sete equipes de campo, sendo uma equipe de localização das unidades amostrais, cinco equipes de medição e uma equipe de coordenação e controle. Cada equipe era composta por 5 pessoas:
A equipe de
localização fazia a localização geográfica
da unidade amostral, através de GPS, mantinha o primeiro
contato com o proprietário, coletava as informações
gerais e marcava o início das unidades amostrais. Ao mesmo
tempo, elaborava um croqui de localização da unidade
para facilitar o acesso das equipes de medição. As equipes
de medição instalavam as unidades amostrais e coletavam
todas as informações específicas
de cada tipo de floresta. A equipe de coordenação e controle mantinha a padronização na coleta de dados, fornecia suporte às equipes de localização e medição e fazia a reavaliação de unidades levantadas para determinar o grau de acuracidade e a qualidade das informações coletadas. Informações
gerais sobre a área florestal As informações
gerais foram coletadas pelas equipes de localização
e de medição, sendo registradas em formulário
próprio, conforme descrito a seguir. Registrou-se a data
da medição e a hora de início e término
das atividades. Identificação
da unidade amostral Identificação
da propriedade Dados
da floresta Dados
da fauna Atividades
de recreação, turismo e educação ambiental Informações
coletadas em florestas nativas As informações
coletadas nas unidades amostrais levantadas em florestas nativas
foram registradas na ficha de campo respectiva. Coordenadas
UTM Registrou-se a longitude e a latitude do ponto central da unidade amostral.
Número
da carta ou imagem de satélite na qual encontrava-se localizado
o ponto amostral. Unidade
amostral Número
da unidade amostral. Tipo de
unidade 1 - Permanente
para crescimento; Exposição
do terreno 1 - Norte;
Classificação
da floresta do ponto de vista da sua fitogeografia Classe da
floresta: classificadas de acordo com o grau de desenvolvimento
da floresta: Sendo que:
c) Estágio
sucessional médio d) Estágio
sucessional avançado (mata secundária) e) Floresta
ciliar Sub-bosque Foi classificado
de acordo com estrutura. 2. Médio 3. Ralo
Classificação
de acordo com o valor ecológico, como segue: 1. Altíssimo
valor ecológico - Floresta
situada em Unidades de Conservação, floresta primária,
floresta ciliar e das margens de canyons; 2. Alto valor ecológico - Floresta contínua, com área significativa, situada nos topos de morro e encostas, protegendo nascentes e margens dos cursos de água, e formando corredor de fauna; fragmento com elevada riqueza de espécies; presença de árvores-matrizes. 3. Médio valor ecológico - Floresta de área considerável, porém as principais espécies - como: araucária, grápia, cedro, louro, canjerana, guajuvira, etc., foram bastante exploradas no passado; florestas secundárias que não formam corredores de fauna ou mata ciliar.
Acesso Classificação
de acordo com o grau de dificuldade de acesso até atingir
a unidade amostral: 1. Fácil
acesso; Relevo Classificado
de acordo com a inclinação do terreno: Município Registrado
o código do município conforme classificação
tributária do Estado. Solo O solo dominante
na unidade foi classificado como segue: Hora de início e término Hora do
início e término do levantamento da unidade amostral,
em cada dia de trabalho, quando necessário mais de um
dia. Área da unidade amostral Registrou-se
a área da unidade amostral de acordo com o tipo de unidade;
Número da árvore Rregistrou-se o número em ordem seqüencial de medição das árvores, correspondente ao da etiqueta pregada no fuste. A etiqueta foi pregada no lado leste das árvores medidas, a uma altura de 30 cm do solo. Espécie Nome Comum: foi registrado o nome comum da árvore, quando conhecido, e coletada uma exsicata para a sua identificação botânica.
Registrou-se
o código da espécie, após a identificação
botânica em laboratório. Circunferência Mediu-se
a circunferência à altura do peito das árvores
amostradas que apresentavam valores maior ou igual a 30 cm,
com trena de precisão em milímetros. Altura comercial Registrou-se a altura comercial da árvore com precisão de decímetros.
Rregistrou-se
a altura total da árvore com precisão de decímetros. Posição
sociológica: classificação das árvores
de acordo com a posição que ocupam no estrato,
dividido em quatro classes: Tendência
de valorização: possibilidade da árvore
passar de um estrato para outro, classificado de acordo com
as condições de crescimento de cada árvore,
através dos seguintes critérios: Classe da copa Classificada
de acordo com a sua profundidade em: Condições de sanidade As árvores
foram classificadas de acordo com as causas e a intensidade
de danos: a) Causas: b) Intensidade: Qualidade do tronco Aavaliada
a partir da seguinte classificação: 2. Fuste
reto a levemente tortuoso, cilíndrico ou pequena excentricidade,
sem defeitos aparentes, presença de pequenos galhos,
que permite obter madeira de boa qualidade; 3. Fuste
com tortuosidade acentuada, excêntrico ou não com
sinais de defeitos internos e externos, presença de galhos
de porte regular, que permite obter madeira com qualidade regular; 4. Fuste
inaproveitável, podre, oco, que não permite qualquer
aproveitamento. Qualidade das toras Avaliação
da qualidade de 4 toras de 1,5 m de comprimento através
da classificação anterior. Esta avaliação
não foi feita na primeira ocasião do inventário. Qualidade HC-6,0m Refere-se à classificação da qualidade do restante do fuste em uma única tora - HC - 6,0 metros. Esta avaliação não foi realizada na primeira ocasião do inventário.
Mediu-se
as distâncias da ordenada e da abscissa de cada árvore
amostrada dentro de cada subunidade de 10 x 10 m, considerando-se
como origem o canto inferior esquerdo. Características das árvores Foram registradas
características adicionais das árvores amostradas
em dois campos: a) Primeiro
campo: b) Segundo
campo: Informações
coletadas em florestas plantadas As informações coletadas nas unidades amostrais de florestas plantadas foram registradas na ficha de camporespectiva.
: Registrou-se
o nome do responsável pelo levantamento, o número
da equipe, a hora de início e término da medição,
nome do local, a espécie ou gênero, área
da unidade e coordenadas UTM do centro da unidade amostral. Código do distrito Na primeira
ocasião do inventário, não foi registrado
o código do distrito. Registrou-se
o número do talhão, conforme identificação
do proprietário. Carta Registrou-se o número da carta onde está localizada a unidade amostral.
Registrou-se
o número da unidade amostral. Medição número Indicou-se
a ordem de abordagem da população relativa ao
tempo, ou seja, 1 (um) para a primeira medição. Número de fichas Indicou-se
o número de fichas usadas na medição da
unidade amostral. Ficha número Rregistrou-se
o número de ordem das fichas utilizada para a medição
da unidade amostral. Data de medição Iindicou-se
o dia, mês e o ano da medição. Espaçamento inicial Registrou-se
a distância original das árvores entre linhas e
na linha. Idade Registrou-se a idade real do povoamento, em meses, levando-se em consideração o mês e o ano do plantio.
1. Permanente; Sítio Registrou-se
a característica geral do solo, de acordo com a seguinte
classificação: Tipo de madeira Classificada
em relação ao gênero e/ou a espécie,
de provável ocorrência no Estado, da seguinte maneira:
Classe natural de idade Refere-se
ao estado de desenvolvimento natural dos povoamentos, como segue: 0. Não
avaliado; 1. Estado
jovem: são todos os povoamentos em estado de cultura ou
de regeneração natural, que compreende o período
entre a implantação até o início do
fechamento das copas do povoamento; 2. Estado
denso: são povoamentos que se encontram no período
entre o início do fechamento do coberto até o início
dos desbastes; 3. Estado
de desbaste: são povoamentos que se encontram no período
compreendido entre o início dos desbastes até atingir
o diâmetro objetivo; 4. Estado
de madeira: são os povoamentos cujo DAP médio é
maior que o diâmetro objetivo (é função
das metas do manejo florestal). Forma de mistura Ccaracteriza
povoamentos com mistura em unidades absolutas ou relativas da
área florestal, como segue: 0. Não
avaliado; 1. Mistura
isolada: as árvores estão distribuídas aleatoriamente
no povoamento; 2. Mistura
em grupinhos: ocorre quando o diâmetro médio da área
de mistura for menor ou igual a 15 (quinze) m (d <ou = 15 m); 3. Mistura
em grupos: (15 m < d <ou = 30 m); 4. Mistura
em grupões (30 m < d <ou = 60 m); 5. Mistura
em pequenas áreas (d > 60 m); 6. Mistura
em faixas: ocorre quando as árvores encontram-se distribuídas
em forma de faixas. Nesta classificação,
a variável d representa o diâmetro médio da
área florestal avaliada. Divisão da mistura Expressa em
percentagem da área ocupada do talhão, como segue: 0. Não
avaliado; 1. 0 - 15%
da área total; 2. 15 - 30%
da área total; 3. 30 - 45%
da área total; 4. > 45%
da área total. Qualidade das árvores Avaliadas
a partir da observação, em termos médios,
das seguintes características das árvores: a) Forma do
fuste: classificado para o povoamento e registrado no primeiro
campo: LONGO: é
o fuste que tiver um comprimento maior ou igual a ¾ da
altura total da árvore; MÉDIO:
é o comprimento compreendido entre ¾ a ½
da altura total da árvore; CURTO: é
o comprimento menor que ½ da altura total da árvore; RETO: fuste
reto e cilíndrico; IRREGULAR:
fuste tortuoso e/ou excêntrico; b) Galhos:
registrado no segundo campo e classificado em: c) Copas:
registrado no terceiro campo e classificada em: d) Defeitos:
registrados no quarto campo e classificados em: Classe de valor Classificada
de acordo com o valor médio estimado da madeira do povoamento,
considerando: 0. Não
avaliada; 1. Altíssimo
valor de produção: são os povoamentos que
apresentam fustes longos e retos, sofreram desrama, copas curtas
e árvores livres de defeitos; 2. Alto valor
de produção: são os povoamentos que apresentam
fustes longos e retos, galhos finos, copas curtas e árvores
livres de defeitos; 3. Médio
valor de produção: são os povoamentos que
apresentam fustes longos e irregulares e/ou médios e retos
e/ou curtos e retos, galhos finos e/ou grossos, copas médias
e baixa incidência de defeitos (até 20%); 4. Baixo valor
de produção: são os povoamentos que apresentam
fustes médios e irregulares, e/ou curtos e retos, galhos
grossos, copas grandes e defeitos em proporção superiores
a 20% e inferiores a 60%; 5. Nenhum
valor de produção: são povoamentos que apresentam
fustes curtos e irregulares, galhos grossos e/ou finos, copas
de qualquer tamanho e com alta incidência de defeitos (
> 60%). Grau de cobertura Refere-se
ao grau de cobertura do solo pelas copas das árvores. Os
povoamentos serão classificados através dos seguintes
códigos: 0. Não
avaliado; 1. Denso:
copas que se entrelaçam; 2. Fechado:
copas que tocam-se na ponta dos galhos; 3. Aberto:
copas distanciadas entre si de modo que uma segundacopa
possa ocupar todo este espaço; 4. Claro:
copas distanciadas entre si de modo que uma segunda copa não
possa ocupar todo este espaço; 5. Espaçada:
copas distanciadas de tal forma que são necessárias
várias copas para ocupar este espaço. Grau de estoqueamento Relação
existente entre o volume real e o volume obtido na tabela de produção,
expresso em porcentagem (%). Na primeira ocasião, não
foi avaliado este item. Mês e ano de plantio Rregistrou-se
o mês e o ano de plantio. Desbaste Registrou-se
o volume de madeira retirado nos desbastes. Na primeira ocasião,
este item não foi avaliado. Medição do DAP Mediu-se os
diâmetros à altura do peito (DAP) de todas as árvores
que apresentavam valores ³ 5 cm. Medição da altura total (h) Mediu-se a
altura total das 20 primeiras árvores da unidade, mais
as das seis árvores mais grossas da mesma (altura dominante). Códigos Identificam
características específicas de cada árvore.
O código era constituído de três dígitos,
assim classificados: 0. Sem peculiaridades; 1. Altura
dominante (ho); 2. Árvore
morta; 3. Árvore
com desenvolvimento abaixo do limite de medição
(DAP <ou = 5,0 cm), não mede o DAP nem a altura; 4. Árvore
bifurcada abaixo de 1,30 m; 5. Árvore
bifurcada acima de 1,30 m; 6. Toco; 7. Árvore
quebrada (não medir a altura); 8. Árvore
torta; 9. Árvore
inclinada. b) Segundo
campo: descrevia as medidas de manejo aplicadas ou previstas para
a árvore: 0. Sem peculiaridades; 1. Árvore
marcada para desbaste; 2. Árvore
desramada; 3. Árvore
marcada para porta semente; 4. Árvore
brasão (não considerar como dominante); 5. Touça
(Eucalyptus spp.) colocar código 5 somente ao medir a primeira
haste de cada touça. 6. Árvore
resinada. c) Terceiro
campo: descrevia outras características de interesse, como
segue: 0. Sem peculiaridades; 1. Falha; 2. Árvore
caída; 3. Brotos
de uma touça (DAP ³ 5 cm); 4. Árvore
dupla; 5. Árvore
com gomose; 6. Árvore
atacada por vespa.
Cubagem
de árvores em florestas naturais Em cada unidade
amostral, temporária ou permanente, foram cubadas de duas
a quatro árvores com CAP >ou = 30 cm. Foram selecionadas
as árvores mais próximas do ponto inicial de medição,
independente da espécie. Os dados foram registrados em
ficha esoecífica. a) Localizava-se
um ponto a uma distância de 15, 20, 25 ou 30 m da árvore,
de modo que o fuste ficasse completamente visível, e o
primeiro diâmetro a ser medido pelo relascópio (a
2,30 m de altura) estivesse contido na banda 4 (banda 1 mais quatro
bandas estreitas); b) Instalava-se
o aparelho sobre tripé e marcava-se na árvore uma
altura
de referência, por exemplo, a altura do peito (1,30 m acima
do solo); c) Visava-se
a altura de referência com o relascópio e registrava-se
a altura lida na escala hipsométrica escolhida. Aumentava-se
a altura de visada adicionando-se um metro à leitura lida
na altura de referência, obtendo-se o primeiro ponto de
medição. Para as demais alturas de medição,
seguia-se aumentando um metro à última altura lida,
até a altura comercial. (Obs.: para a escala hipsométrica
de 15 m lia-se os valores na escala de 30 metros e dividia-se
o resultado por dois); d) No ponto
de medição, com precisão de ½ banda
estreita, observava-se quantas bandas eram necessárias
para se atingir o diâmetro à altura de medição.
Em função disto e da distância selecionada, obtinha-se o diâmetro na altura do ponto de medição, pois:
Quando não
se conseguia boa visualização da árvore a
distâncias fixas, media-se diâmetros a distâncias
variáveis. Para tanto, era necessário o auxílio
de uma régua de medição de altura para se
obter o ponto de medição. A ficha de
campo para a cubagem rigorosa de árvores de florestas nativas
incluía as seguinte observações: Carta Número
da carta onde estava localizada a unidade amostral. Unidade amostral Número
da unidade amostral em que a árvore estava sendo cubada. Árvore número Número
de ordem das árvores cubadas. Espécie Código
da espécie. DAP/CAP Diâmetro
ou circunferência (à altura do peito) medida com
a árvore em pé. Altura total Aaltura total
da árvore, com precisão de decímetros, medida
com VERTEX. Altura comercial Aaltura comercial
da árvore, com precisão de decímetros, medida
com VERTEX. Hora de início e término Hora de início
e término da cubagem. Data de medição Dia, mês
e ano da medição. Equipe Número
da equipe responsável pela cubagem. Diâmetro Diâmetros
com casca medidos nas alturas pré-determinadas. Espécie Nome comum
da espécie. Continua Quando a altura
da árvore era maior que 12,3 m, o registro da cubagem continuava
no quadro seguinte. Obs.: Na cubagem
de árvores em florestas naturais não foi medida
a espessura de casca na primeira ocasião do inventário. Cubagem
rigorosa em florestas plantadas Em cada unidade
amostral, temporária ou permanente, cubou-se uma ou duas
árvores com DAP ³ 5 cm. As árvores cubadas
foram selecionadas fora da unidade amostral, porém próximo
da mesma, com DAP semelhante ao diâmetro médio da
unidade amostral. A cubagem
rigorosa era feita em árvores abatidas, utilizando-se o
seccionamento relativo (Hohenadl) ou seccionamento absoluto. Quando se
utilizava o seccionamento absoluto, mediam-se os diâmetros
e a espessura de casca a 0,1 m; 0,3 m; 1,3 m (DAP) e a partir
do DAP de metro em metro até a altura total da árvore.
As fichas
de campo para a cubagem rigorosa de florestas plantadas incluía
as seguinte observações: Carta Registrou-se
o número da carta onde foi localizada a unidade amostral. Unidade amostral Registrou-se
o número da unidade amostral próxima da árvore
que estava sendo cubada. Talhão Registrou-se
o número do talhão, quando existia. Idade Registrou-se
a idade real do povoamento em meses, levando-se em consideração
o mês e o ano do plantio. Árvore número Registrou-se
o número seqüencial de cubagem. Espécie Registrou-se
o nome comum da espécie. DAP Registrou-se
o DAP medido com suta. Altura total Registrou-se
a altura total da árvore, com precisão de centímetros,
medida com trena. Altura aproveitável Esta avaliação
não foi feita nesta primeira ocasião. Altura do primeiro galho Registrou-se
a altura na qual encontrava-se o primeiro galho vivo da árvore. Hora de início e término Registrou-se
a hora de início e término da cubagem. Data de medição Registrou-se
o dia, o mês e o ano da medição. Equipe Registrou-se
o número da equipe responsável pela cubagem. Altura Registrou-se
as alturas em metro, com precisão em centímetro,
das alturas relativas aos pontos de medição. Diâmetro Registrou-se
os diâmetros com casca nas respectivos pontos de medição,
medido com suta e precisão de milímetros. Espessura da casca Registrou-se
a espessura da casca nas respectivos pontos de medição,
com precisão em milímetros. Espécie Registrou-se
o nome comum da espécie.
Os volumes
individuais das árvores de cada unidade amostral, a partir
dos quais estimou-se os volumes comerciais e totais de cada estrato
e da população, foram obtidos através do
ajuste de diversos modelos de equações volumétricas,
aritméticas e logarítmicas, comumente usados em
inventários florestais e selecionados os que melhor se
ajustaram aos dados. Cubagem
rigorosa A cubagem rigorosa de árvores-amostra para as relações volumétricas foi efetuada concomitantemente à coleta de dados das unidades amostrais, com controle das espécies e classes diamétricas, visando cobrir a amplitude de variação dos indivíduos da população, seguindo as metodologias anteriormente descritas. Os volumes individuais das árvores cubadas foram obtidos através da metodologia de Smalian, mediante a aplicação da seguinte fórmula:
Onde:
v = volume rigoroso total do fuste; Esses
volumes foram utilizados para testar os modelos de equações
volumétricas. 3 Equações volumétricas
A
seleção das melhores equações aplicáveis
ao cálculo dos volumes das parcelas foi feita com base
nos critérios estatísticos recomendados por DRAPER
& SMITH (1966), SCHNEIDER (1993) e outros, ou seja:
A
equação de volume selecionada era aquela derivada
do modelo que apresentava a melhor combinação dos
indicadores estatísticos, ou seja: maior coeficiente de
determinação, menor erro padrão da estimativa,
maior valor de F e menor soma de quadrados dos resíduos.
O Índice de Furnival era usado para comparar o erro padrão
de modelos logarítmicos com os dos aritméticos.
Cálculo dos volumes das unidades amostrais A
partir equações volumétricas selecionadas
para os diferentes estratos de florestas nativas e plantadas,
calculou-se os volumes de cada unidade amostral, os quais resultavam
do cômputo dos volumes individuais de cada árvore
da parcela, expressos por hectare.
Equações hipsométricas A
metodologia definida para o levantamento das florestas plantadas,
estabelecia a medição das alturas das 20 primeiras
árvores da parcela e mais as 6 árvores mais grossas.
Como o volume das parcelas é determinado a partir do cálculo
dos volumes de cada árvore, era necessário a elaboração
de uma equação hipsométrica para estimar
as alturas das árvores não medidas.
Todos estes modelos são usados para descrever as relações funcionais entre os diâmetros e as alturas das árvores.
Segundo MONTOYA-MAQUIN
& MATOS (1967), a vegetação natural é
uma comunidade muito complexa e está relacionada com os
diversos fatores do meio, como climáticos, pedológicos
e biológicos. Pode-se quantificá-la por diversos
parâmetros, entre os quais destacam-se os métodos
baseados no estudo dos diversos elementos da vegetação,
que são os métodos florísticos ou taxonômicos
e os baseados na estrutura e na fisionomia. De acordo
com FÖRSTER (1973), a análise estrutural da vegetação
deve ser baseada no levantamento e na interpretação
de critérios de conteúdo mensuráveis. Análise
dessa natureza permite comparações entre diferentes
tipos de florestas. LAMPRECHT
(1962, 1964), VEGA (1968), FÖRSTER (1973) e FINOL (1971,
1976), descreveram os aspectos fitossociológicos das florestas,
considerando parâmetros da estrutura horizontal e vertical. Para análise da estrutura horizontal das comunidades vegetais utiliza-se os parâmetros de densidade (abundância), freqüência, dominância, valor de importância e valor de cobertura, que revelam informações sobre a distribuição espacial das populações e sua participação no contexto do ecossistema. A estrutura vertical ou o arranjo dos indivíduos dentro do espaço vertical, deve basear-se na distribuição dos indivíduos em estratos (GUAPYASSÚ, 1994). A diversidade
também foi avaliada.
Estrutura
Horizontal a) Densidade
ou Abundância DA
= n/ha A
Freqüência indica a uniformidade de distribuição
de uma espécie sobre uma determinada área, ou seja,
a sua dispersão média (LAMPRECHT, 1962 e 1964; DAUBENMIRE,
1968 e FÖRSTER, 1973). Para SOUZA (1973), é a percentagem
de ocorrência de uma espécie em um número
de áreas de igual tamanho, dentro de uma comunidade. FA
= % de subparcelas em que ocorre uma espécie
De
acordo com MARTINS (1991), a dominância expressa a proporção
de tamanho, volume ou cobertura de cada espécie, em relação
ao espaço ou volume da fitocenose. Para
FÖRSTER (1973), FONT-QUER (1975) e SCHMIDT (1977), dominância
é a medida da projeção total do corpo das
plantas. Neste caso, a dominância de uma espécie
representa a soma de todas as projeções horizontais
dos indivíduos pertencentes à espécie. Em
florestas muito densas, torna-se, praticamente, impossível
determinar os valores da projeção horizontal das
copas das árvores, devido à existência de
estratos superpostos, formando uma estrutura vertical e horizontal
muito complexa. Por isso, CAIN et al. (1956) propuseram o uso
da área basal como substituição à
projeção das copas, já que existe estreita
correlação entre ambas. Esta correlação
foi confirmada por vários autores, como VOLKART (1971),
BRUNIG & HEUVELDOP (1976) e LONGHI (1980). A Dominância Absoluta (DoA) de uma espécie consiste na soma da área basal de todos os indivíduos da espécie, presentes na amostragem. Dominância Relativa (DoR) é a relação percentual entre a área basal total da espécie e a área basal total por hectare (MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG, 1974).
DoA = g/ha onde:
Os
dados estruturais de Densidade, Dominância e Freqüência
revelam aspectos essenciais na composição florística
das florestas, com enfoques parciais, os quais isolados, não
podem informar sobre a estrutura florística de uma vegetação
em conjunto. É importante, para a análise da vegetação,
encontrar um valor que permite uma visão ou caracterização
da importância de cada espécie, no conglomerado total
da floresta (FÖRSTER, 1973 e LAMPRECHT, 1962 e 1964). De
acordo com MUELLER-DOMBOIS & ELLENBERG (1974), qualquer um
dos valores dos parâmetros quantitativos de Densidade, Dominância
e Freqüência Relativas de cada espécie pode
ser interpretado como de importância na fitocenose, dependendo
do que o pesquisador considere relevante. VI
= DR + DoR + FR Alguns autores
fazem restrições ao uso deste parâmetro. DAUBENMIRE
(1968) observa que ao serem somados os três parâmetros,
o valor de Freqüência tende a mascarar os demais, apresentando,
portanto, um maior peso na definição do Valor de
Importância. CAIN & CASTRO, citados por MARTINS (1991),
chamam a atenção para o fato de os valores de Freqüência
serem afetados pelas características das parcelas e da
amostragem.
FÖRSTER
(1973) considera o Valor de Importância uma grandeza relativa
e, por isso, deve ser tratado de forma breve. A importância
que uma espécie adquire na floresta é caracterizada
pelo número de árvores e suas dimensões (Densidade
e Dominância), que determinam o espaço dentro da
biocenose, não importando muito se as árvores aparecem
isoladas ou em grupos (Freqüência). A Freqüência
Relativa, que entra no valor da somatória do Valor de Importância,
terá uma influência mínima na hierarquia das
espécies, na comunidade, quando as espécies estão
uniformemente distribuídas. Neste caso, a Densidade e a
Dominância, são os elementos determinantes e a Freqüência
só terá influência, quando algumas espécies
aparecem agrupadas. VC
= DR + DoR
FINOL (1971)
destaca que, somente a análise de parâmetros da estrutura
horizontal da floresta, não permite uma caracterização
verdadeira dos seus componentes. Inclui, por isso, a análise
da Posição Sociológica e Regeneração
Natural. a) Posição
Sociológica A estrutura
sociológica ou expansão vertical das espécies
informa sobre a composição florística dos
distintos estratos da floresta. A posição sociológica
de uma árvore não é nenhuma função
direta de sua altura total, mas sim determinada pela expansão
vertical em relação com aquela de seus vizinhos
(LAMPRECHT, 1964). De acordo
com FINOL (1971), a presença das espécies nos diferentes
estratos da floresta é de verdadeira importância
fitossociológica, especialmente quando se trata de florestas
muito irregulares e heterogêneas. Em geral, uma espécie
tem seu lugar assegurado na estrutura e composição
da floresta, quando se encontra representada em todos os estratos
e, ao contrário, aquelas que se encontram somente no estrato
superior, ou superior e médio, é muito duvidosa
sua sobrevivência no desenvolvimento da floresta até
o clímax. Excetuam-se a esta regra, aquelas espécies
que por características próprias, nunca chegam a
passar do piso inferior. Baseado nesta
teoria, FINOL (1975) afirma que as espécies que apresentam
uma Posição Sociológica regular, isto é,
maior número de indivíduos no piso inferior e diminuição
até o piso superior, são as mais estáveis
ecologicamente dentro da comunidade florestal. b) Regeneração
Natural FINOL (1975)
diz que a Regeneração Natural das espécies
arbóreas do ecossistema florestal constitui o apoio ecológico
de sua sobrevivência. Fitossociologicamente deveria entender-se
que para uma "Associação Clímax"
a grande maioria das árvores que integram a cobertura geral
da floresta, teriam que estar representadas na regeneração,
para que desta maneira possa haver substituição
normal dentro da mesma identidade botânica. No entanto,
pela grande amplitude ecológica do ambiente e pela grande
variabilidade florística disponível, deve-se aceitar
que mesmo numa floresta clímax sempre ocorrerão
representantes arbóreos sem regeneração,
devido fundamentalmente ao potencial de "espécies
oportunistas", que só esperam uma pequena clareira
na cobertura, para fazerem parte da estrutura. Segundo FÖRSTER (1973) e PETIT (1969), o estudo da regeneração natural é de importância fundamental na preparação dos planos de manejo florestal, informando se a vegetação tem potencial para sustentabilidade de produção.
Segundo MAGURRAN
(1989), as medidas de diversidade tem sido freqüentemente
utilizadas como indicadores do bom funcionamento dos ecossistemas
e uma das implicações deste fato é o grande
número de índices existentes, cada um tentando caracterizar
a diversidade de uma amostra ou comunidade através de um
único número. Apesar de
que uma das fontes de erro mais substancial provenha do fato de
não se conseguir incluir todas as espécies da comunidade
na amostra, é recomendado o uso do Índice de Shannon
por ser o mais utilizado em fitossociologia, e portanto, passível
de comparação com estudos realizados em outras comunidades
florestais. É calculado pela equação:
O
valor deste índice normalmente situa-se entre 1,5 e 3,5,
sendo raro maior que 4,5.
Para a correta
identificação botânica das espécies
amostradas no Inventário Florestal Contínuo do Rio
Grande do Sul, foram adotados os seguintes procedimentos: Coleta
de material botânico Foram coletadas,
pelas equipes de campo, material botânico de todas as árvores
amostradas nas parcelas, que foram enumeradas conforme metodologia
do inventário. Procurou-se obter material mais completo
possível, isto é, ser constituído de ramos
com folhas, flores e/ou frutos. A presença desses elementos
é dependente da época do ano e nem sempre é
possível encontrá-los simultaneamente. Procurou-se
coletar o máximo possível de amostras (3 a 5 exemplares)
de um mesmo indivíduo, para evitar perdas de coleta, quando
as condições de umidade prejudicam a secagem do
material. Em árvores
de grande porte a obtenção de material botânico
pode se tornar tarefa difícil. Às vezes, é
necessário escalar a árvore, utilizar escadas, podões
de cabo extensível, bodoques ou linhadas. Importante é
que de uma maneira ou de outra a coleta de amostra da árvore
deve ser realizada, para proceder sua identificação
correta. Para a coleta,
as equipes de campo possuiam equipamentos adequados, que foram
fornecidos pelos responsáveis pelo inventário, como:
prensas de madeira, papel jornal, etiquetas, bodoques, podões
ajustáveis, podões manuais, binóculos e sacos
plásticos. Secagem
do material coletado As equipes
de campo tiveram o cuidado de secar adequadamente o material botânico
coletado, durante a permanência no campo. Nos primeiros
dias após a coleta esta fase torna-se muito importante,
pois as plantas precisam perder a umidade natural para a sua conservação.
O material
coletado foi devidamente colocado nas prensas, entre papel jornal,
cuidando-se para que as folhas das plantas disponham-se em um
mesmo plano e, na medida do possível sem dobramento. Para
evitar confusões, toda amostra recebeu uma numeração
própria, a mesma da ficha de coleta de dados e a mesma
que a identifique no campo. Para isso foi necessário anexar
aos exemplares coletados uma ficha descritiva e nela devem constar
a numeração de coleta, nome comum, nome do coletor,
data de coleta, local de coleta, coordenadas geográficas
e outras informação importantes, como: dimensões
da árvore, cor das flores, características da casca,
presença de espinhos ou acúleos, etc. As prensas
foram diariamente expostas ao sol. Para o sucesso da secagem,
deve-se trocar o jornal diariamente nos primeiros dias após
a coleta. Além disso, deve-se procurar não acumular
muito material nas prensas, que dificultarão a secagem.
A identificação
botânica das espécies amostradas no Inventário
Florestal Contínuo do Rio Grande do Sul foi realizada pelos
professores Solon Jonas Longhi do Departamento de Ciências
Florestais - UFSM, Adelino Alvarez Filho e Renato Aquino Záchia
do Departamento de Botânica - UFSM e Bruno Edgar Irgang
do Departamento de Botânica - UFRGS, do Botânico Marcos
Eduardo Guerra Sobral da Faculdade de Farmácia - UFRGS.
Quando necessário foi feita consultas aos Herbários
da UFRGS (ICN) e da UFSM (HDCF e SMDB). Montagem
das exsicatas Após
confirmada a identificação das espécies,
providenciou-se a montagem das exsicatas. Estas foram incorporadas
ao Herbário do Departamento de Ciências Florestais
(HDCF) e servirão de base para o próximo Inventário,
previsto para 5 anos. Os outros herbários envolvidos poderão
também incorporar em seus acervos as espécimes coletadas
no Inventário.
Uma vez prontas,
as exsicatas são colocadas em caixas hermeticamente fechadas
contendo naftalinas para conservação, evitando-se
assim ataques de insetos e outros organismos que deterioram as
coleções.
Diâmetros em centímetro para diferentes bandas e distâncias
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||